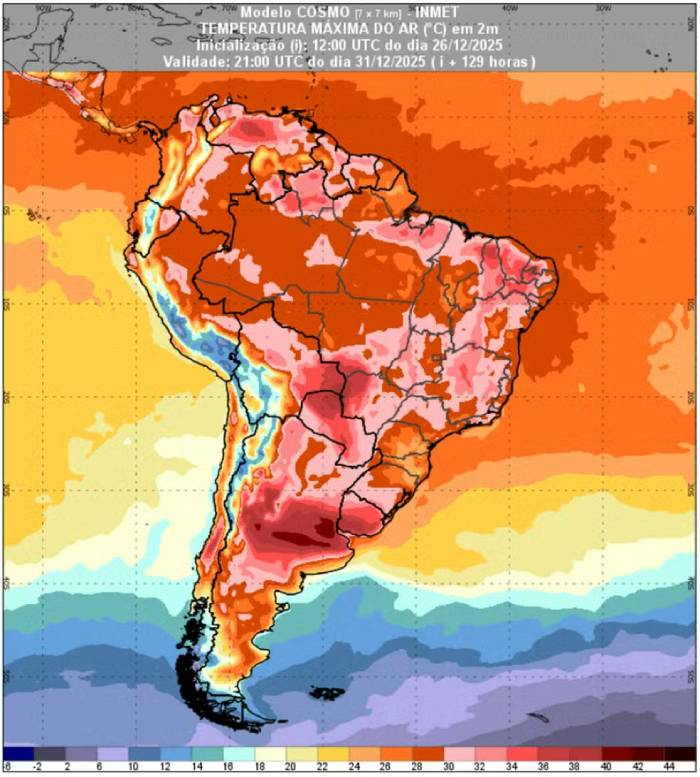Advogada que luta para incluir o ecocídio, a morte do meio ambiente, na lista de crimes contra a paz, defende que é preciso punir criminalmente diretores de empresas que cometem atrocidades; na Corte Penal Internacional, se necessário

Brumadinho, após o rompimento da barragem
A escocesa Polly Higgins tinha um bem-sucedida carreira como advogada em Londres, atuando como especialista em direito corporativo e trabalhista. Uma mudança na área do Direito, porém, acabou por torná-la conhecida como a "advogada da Terra". Ao migrar para a área civil, ela se questionou de que maneira seria possível criar formas legais de cuidar daquele que seria seu principal cliente a partir de então, o próprio Planeta.
Nessa jornada, ela tem um objetivo: incluir o ecocídio como quinto item da na lista de crimes contra a paz, ao lado de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e os crimes de agressão. O termo vem sendo utilizado, com diferentes interpretações, desde os anos 1970, e pode ser definido como "a extensa destruição, dano ou perda do ecossistema de um determinado território, seja por ação humana ou por outras causas, a tal ponto que a utilização pacífica daquele território por seus habitantes seja severamente comprometida”.
Na prática, a inclusão do ecocídio como um novo crime significaria que atrocidades cometidas por empresas poderiam ser levadas ao Tribunal Penal Internacional (TPI). A Corte internacional de última instância apenas julga pessoas condenadas pelos crimes de interesse internacional. Apesar de o Brasil ter legislação que reconhece os crimes ambientais, caso os diretores de empresas acusadas não sejam condenados na esfera criminal, não é possível, pela legislação internacional atual, que se recorra ao TPI em busca de punição, como aconteceria em caso de um crime de genocídio. Para citar um exemplo de como a justiça brasileira pode ser morosa inclusive em casos graves, o processo penal contra os diretores da Samarco, por exemplo, foi suspenso em 15 de outubro de 2018, por um juiz federal de Ponte Nova, atendendo a pedidos de réus ligados à BHP Biliton, uma das controladoras da empresa ao lado da Vale. Até hoje, ninguém foi responsabilizado criminalmente pelo crime ocorrido há mais de três anos na barragem de Mariana, em Minas Gerais.
Higgins conversou com o EL PAÍS sobre como este crime poderia ser atribuído aos desastres da Vale, em Brumadinho, e da Samarco, em Mariana.
Pergunta. O crime de ecocídio quase foi incluído no Estatuto de Roma, o tratado que estabeleceu a Corte Penal Internacional, em 1998. O que aconteceu?
Resposta. O ecocídio começou a ser elaborado 11 anos antes do Estatuto de Roma. Mas, em 1996, foi removido de maneira pouco ortodoxa, a portas fechadas, apesar de 50 dos 54 países que discutiram o tratado o terem aprovado. Não temos todas as informações para entender o que aconteceu na época. Sabemos que o Estatuto de Roma que estava sendo redigido durante as década de 1980 e 1990 foi fatalmente comprometido e várias disposições foram alteradas, incluindo a remoção de ecocídio, que seria um crime autônomo em si mesmo, assim como o genocídio. Os crimes de atrocidade foram coletivamente referidos como os crimes internacionais contra a paz, que remontam aos julgamentos de Nuremberg, e o crime de ecocídio seria o quinto crime internacional contra a paz, se tivesse permanecido.
P. Quem estava fazendo lobby para que esse crime fosse removido do tratado?
R. Reino Unido, Estados Unidos, França, Holanda e há também indicações do Brasil. Sabemos disso a partir de pesquisas realizadas pela Escola de Estudos Avançados da Universidade de Londres, que localizou os registros na ONU. O Estatuto de Roma foi determinado com um voto por estado membro, como é o caso da maioria das decisões das Nações Unidas, por isso sugere que práticas não ortodoxas ocorreram nos bastidores. O que estou fazendo hoje é basicamente realinhar a lei para onde deveria ter sido originalmente.
P. Várias empresas criticam a necessidade de uma nova lei para proteger o planeta. Como o ecocídio é diferente das regulamentações atuais?
R. Em primeiro lugar, não é um novo regulamento de influência local. É um crime, e em nível internacional. Há uma grande diferença: a lei civil pode ser usada para processar uma empresa quando esta viola algum tipo de regulamentação ambiental. O resultado da penalidade por meio de solução financeira é frequentemente limitado e raramente alcançado. Indivíduos ou comunidades podem entrar com uma ação civil contra o Estado também. Mas, no momento, o Estatuto de Roma não tem o ecocídio como um dos crimes de atrocidades, como o genocídio, reconhecido internacionalmente, e cuja proteção é obrigatória para todos os países que são signatários do tratado. Quando estiver operacional, os países signatários do Estatuto de Roma, que inclui o Brasil, serão protegidos por ele. Por isso, podemos dizer que ecocídio é potencialmente o crime que falta ser tipificado.
P. É mais difícil responsabilizar empresas?
R. Não é a empresa que é processada, são os indivíduos, os alto funcionários. São os CEOs e os diretores. Não é a empresa (ou o estado) que é processada; é o indivíduo que carrega o fardo do que é conhecido na lei como 'responsabilidade superior'. Por exemplo, se o CEO da empresa apunhala um de seus diretores, ele será processado por assassinato. Não importa se ele faz parte de uma empresa. É a sua ação como indivíduo que é abordada em um tribunal penal. É a mesma premissa com o crime de ecocídio: indivíduos são responsabilizados dentro da corporação. É o princípio da 'responsabilidade superior'. São os indivíduos no topo do comando que são considerados responsáveis pelo crime, não a empresa em si. Por exemplo, veja o que aconteceu com o desastre de mineração no Brasil. A polícia está investigando e já prendeu alguém por acusações criminais relacionadas à destruição do meio ambiente? Se não há crime para a destruição ambiental, então não há nenhum processo para ser julgado. Por não ter nenhum crime de ecocídio, as reparações que uma comunidade que foi adversamente afetada estão limitados à ação civil, que pode ser longa e custosa.
P. É possível considerar o rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, como um ecocídio?
R. Possivelmente. É preciso examinar as evidências como tamanho, duração ou impacto: o tamanho do território afetou negativamente uma área de 200 quilômetros ou mais? Até onde vai a destruição ou a perda de trechos do ecossistema? O desastre terá um impacto adverso no meio ambiente por um período substancial? Sabe-se que onde há perda de ecossistemas por mais de 90 dias, a recuperação é rara. É preciso ver também o impacto humano e não humano deste território. Houve alguma morte? Quão severa é a destruição? A partir daí, você começa a examinar as evidências para criar um possível caso de ecocídio. Mas é difícil examinar com os dados disponíveis. Embora o ecocídio não exista como crime no Brasil, examinar as evidências neste contexto como um potencial ecocídio reformula a questão. Deixa de ser visto como um ‘acidente’ para se analisar se houve uma falha significativa de um dever legal de cuidado da empresa, o que, por sua vez, abre a questão sobre se o Estado deve processar os responsáveis.
P. O fato de o rompimento da tragédia de Mariana, da Samarco, que tem a Vale como uma das donas, ter acontecido apenas três anos antes pode ser um agravante?
R. O que você vê é um possível padrão operacional emergindo; um desrespeito imprudente pelas consequências. Esta pode ser uma questão de toda a indústria, em que as salvaguardas não são postas em prática ou a atividade industrial perigosa continua, apesar do conhecimento de quais são as consequências. Isto é algo que estamos examinando; especificamente, olhando para a falha quântica dos altos funcionários de uma empresa em particular, que sabiam que suas operações eram perigosas. Em dezembro, no Tribunal Penal Internacional, em Haia, lançamos um exame sobre um tipo especial de ecocídio. Estamos analisando o ecocídio ecológico e climático como resultado das operações da empresa petrolífera Shell. Examinamos a possibilidade de que casos de ecocídio possam ser processados como um crime contra a humanidade dentro das provisões existentes do Tribunal Penal Internacional.
P. E como fazer isto sem uma nova lei?
R. Quando você olha para as atividades de uma empresa que tem como resultado um grande número de mortes, isto é sem dúvida um ato desumano. E se este é o caso, poderia ser considerado um crime contra a humanidade, um ato desumano de ecocídio. Mas como responsabilizar criminalmente indivíduos por estas atrocidades se ecocídio não é crime? Nós pensamos que há possivelmente um argumento para usar o Artigo 7 (1) (k) do Estatuto de Roma, que caracteriza crimes contra a humanidade em caso de atos desumanos [que causam intencionalmente grande sofrimento, ou lesões graves ao corpo ou à saúde mental ou física]. É possível argumentar —se a imprudência for estabelecida—, que ambos os desastres de mineração que aconteceram no Brasil são atos desumanos. Embora tal caso possa não ter sucesso por outras razões, a importância de tal caso sinaliza uma mudança; porque muda a narrativa de aceitação de atividades corporativas perigosas. Em vez de litígio civil pelo indivíduo, o Estado tem que processar os CEOs das corporações e seus diretores em um tribunal criminal, para examinar a evidência de seus atos de atrocidade. Isto é muito importante: é sobre a empresa assumir a responsabilidade por suas ações e ser responsabilizada em um tribunal criminal.
P. Na prática, como esta mudança de narrativa pode ajudar a mudar o comportamento da empresas?
R. O que você tem atualmente é uma prática industrial amplamente consolidada e aceita, de colocar o lucro na frente das pessoas e do planeta. O mesmo ocorreu com outras empresas de mineração cujas barragens de rejeitos estouraram causando desastres. Houve um na Alemanha há alguns anos. Este é um modus operandi, uma falha constante para garantir que as provisões de segurança estejam realmente em vigor. A situação atual é particularmente preocupante, pois há evidências que sugerem que as pessoas que trabalhavam na empresa já haviam reconhecido que era potencialmente insegura. Isso exige uma investigação criminal dentro do Estado. Mas, a menos que se aplique a lei criminal que responsabiliza os altos funcionários, enormes desastres deste tipo, em que houve uma falha substantiva na ação corporativa, geralmente termina apenas em multa.
P. De fato, o próprio presidente da Vale, Fabio Schvartsmann, afirmou durante audiência no Congresso que a empresa não vai “optar por judicialização”, mas sim por negociação, como forma de acelerar o atendimento a todos os atingidos.
R. Na verdade, ele tem uma certa razão. Este é o problema. Alterar as regulamentações ambientais que obrigam a empresa a pagar apenas uma multa não é suficiente. Se esta empresa sabia o que aconteceria, neste caso, quando seu lago de rejeito que estava posicionado em uma encosta começasse a vazar e, acabasse por explodir, inundando casas, vilas, matando centenas de pessoas e destruindo vastas extensões de terra, então algo precisa ser feito. As consequências são enormes. Conhecer e não agir sugere um ato desumano. Se uma investigação mostra que tem havido uma constante falta de certas salvaguardas que deveriam ter sido postas em prática, então você está olhando para uma possível acusação. E isso é algo que o próprio Estado deveria fazer. Se o Estado não quiser, e a evidência merecer, o caso poderá ser levado ao Tribunal Penal Internacional – por indivíduos ou organizações.
P. Como seria este procedimento?
R. O Brasil é signatário do Tribunal Penal Internacional, portanto, se o Estado não impetrar uma ação penal, qualquer indivíduo poderá apresentar uma petição para que o caso seja examinado como um crime contra a humanidade. Mas, primeiro, é necessário verificar se o Estado teve a oportunidade de apresentar sua própria ação judicial.
P. Neste caso, quem seria cobrado pelo crime?
R. Sob o princípio de responsabilidade superior pode ser o CEO e/ou os diretores (ou qualquer outro funcionário sênior) que são responsabilizados no direito penal internacional. Não são os operadores menores, nem os agentes subcontratados. Isso ocorre porque a atrocidade ocorreu sob seu comando. Durante os julgamentos de Nuremberg, a IG Farben, que era uma empresa química, teve seus diretores e CEOs julgados e condenados por crimes contra a humanidade. Portanto, temos precedentes para isso.
P. Até agora, 10 países já possuem o crime de ecocídio em seu código penal – Vietnã (1990), Federação Russa (1996), Cazaquistão (1997), Quirguistão (1997), Tajiquistão (1998), Geórgia (1999), Bielorrússia (1999), Ucrânia (2001), Moldávia (2002) e Armênia (2003). Alguns destes países não são exatamente famosos por respeitar os direitos humanos ou o meio ambiente. Por que eles foram os primeiros?
R. O Vietnã foi o primeiro por causa da guerra no país. O que aconteceu com os outros foi realmente um marco histórico. Em 1996, foi anunciado que o crime ambiental estava sendo retirado do Estatuto de Roma. A Rússia era um porta-voz, sob o Governo Gorbachev, em apoio ao crime de ecocídio. Após o colapso da União Soviética, os Estados soviéticos anteriores adotaram e implementaram seus próprios códigos penais criminais, em grande parte baseados nos russos, que incluíram o chamado quinto crime contra a paz, ecocídio —alguns com sutis diferenças legais de redação.
P. Hoje em dia quais são as principais barreiras para que o ecocídio seja reconhecido como um crime contra a humanidade em escala global?
R. Seja ou não corrupção ou interesses corporativos, há um fato que não pode ser ignorado. O maior lobista do direito é a indústria; quando você tem alcance global e lucros às vezes maiores do que o PIB de um país, fazer lobby por leis se torna uma prática aceitável por corporações transnacionais para determinar o destino de nosso povo e de nossa terra. Isso não é justiça. É preciso um nível de legislação muito mais alto; um que opere a partir de um lugar de justiça e, talvez se possa dizer, de uma consciência mais elevada do que aquela que temos agora. Mas, é importante ser ser dito, isso não é uma realidade em todos os países. Por exemplo, há pequenos Estados insulares em desenvolvimento, como Tuvalu e Vanuatu, no Pacífico, que têm um interesse real em discutir essa questão porque sofrem de ecocídio climático. É uma crise humanitária existencial para eles. É por isso que estamos agora examinando se podemos discutir os efeitos das mudanças climáticas, impulsionados por atividades industriais perigosas pela indústria de combustíveis fósseis e seus altos funcionários que conheciam as consequências, como um crime de atrocidade contra a humanidade. Estamos examinando [no caso da Shell], em particular, se suas atividades sob os auspícios de vários CEOs podem ou não ser um ato desumano, porque há evidências substanciais para mostrar que eles sabiam, desde os anos 80, que o que estavam fazendo agravaria a situação e o colapso climático.
(El Pais)